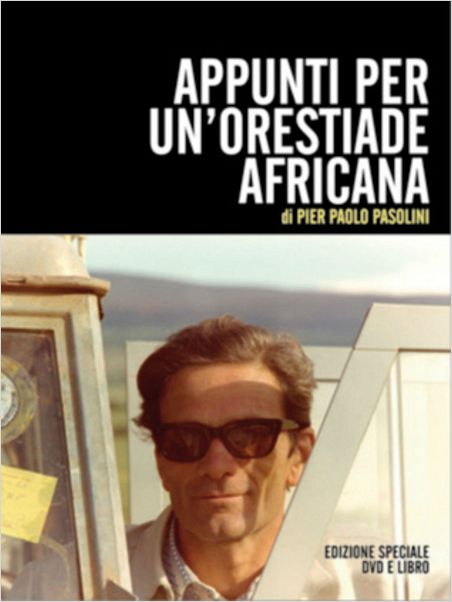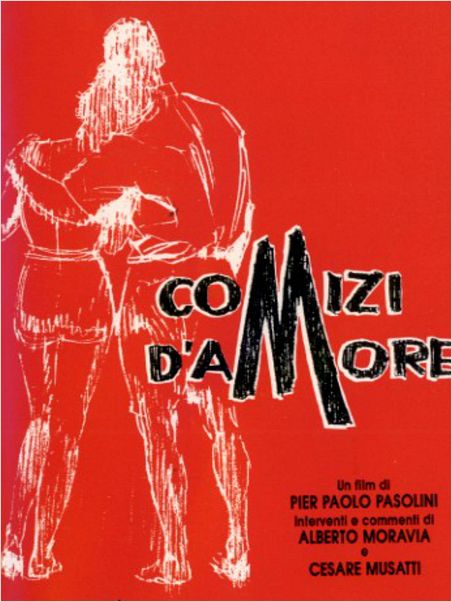Outro doc de PPP. Grande descoberta: seus docs são tão geniais quanto os filmes de ficção.
Este Appunti per una Orestiade africana, de 1970.
PPP manda seu público ler, fazer o dever de casa. Sair da cômoda posição de espectador.
Sinopse: Em uma época em que os povos africanos estavam se libertando dos
colonizadores europeus, o diretor Pier Paolo Pasolini teve a ideia de
fazer uma adaptação de Oréstia, tragédia grega escrita por Ésquilo, na
África. O projeto acabou fracassando, o que levou Pasolini a juntar o
material gravado e fazer um documentário sobre o processo do filme, com
as pesquisas de locações e elenco. Um relato que traz a pergunta: até
que ponto a África conseguiu se libertar?
Oresteia
de 458, cerca de dois anos antes da sua morte, chega intacta aos nossos dias. Manuel Oliveira
Pulquério, da Universidade de Coimbra, sublinha que, das tragédias
esquilianas que sobreviveram até à actualidade, é destacada a
importância da
Orésteia,
pela mudança de paradigma social, ético e religioso, bem como de
modelo de Estado que lhe está subjacente.
Os poetas trágicos – categoria em
que Ésquilo se encontra incluído – concorriam na
Antiguidade aos concursos dramáticos, organizados no âmbito das
festividades dionisíacas, com conjuntos de quatro peças ou
tetralogias, as quais correspondiam a uma trilogia trágica e a um
drama satírico, sem que estas estivessem necessariamente ligadas
entre si.
 |
| Busto de Ésquilo |
A Ésquilo deve-se a criação
da figura da “grande trilogia temática de que a Oresteia é
o maior e o mas perfeito exemplar que nos chega às mãos no século
XXI” (Pulquério). Durante a acção dramática homens e deuses
(Zeus, Apolo e Atena) são mobilizados para encontrar uma solução
que quebre a cadeia de culpa e expiação que liga fatalmente as
personagens. Uma culpa que é simultaneamente pessoal e hereditária:
«Mas Apolo e Orestes, o deus e o
homem, hão-de superar este conflito de deveres, quando os deuses
antigos (as Erínias, Fúrias ou Euménides) cederem à realidade dos
novos tempos , representada pelos novos deuses olímpicos, que com a
vitória sobre os outros deuses e sobre si próprios irão inaugurar
uma nova era de paz, tanto para os mortais como para os imortais.
Estes deixarão (…) por força de um direito de instituição
divina (Atena é fundadora do Areópago) de ser árbitros da vida e
da morte vinculados a um destino, a que não têm hipótese de
libertação...» (MOP, 2010)
A Oresteia (em
grego: Ὀρέστεια, transl. Orésteia), também conhecida como Oréstia, Orestíada ou A Trilogia de Orestes, é uma trilogia de peças teatrais de autoria do dramaturgo grego Ésquilo. É composta pelas tragédias Agamemnon, Coéforas e Euménides. Trata da maldição da tragédia sobre a família de Atreu após o retorno da guerra de Troia. 1
É a única trilogia que sobreviveu até aos nossos dias. Foi representada pela primeira vez em
485 a.C. nas Festas dionisíacas de Atenas, em que ganhou o primeiro prémio.
Agamemnon
 |
Clitemnestra hesita antes
de matar Agamenon dormido. Ao seu lado, Egisto a incita para
que o execute. Óleo de 1817, obra de Pierre-Narcisse
Guérin. |
Continua a sequência de morte e vingança lançada sobre os descendentes de
Atreu, após a vitória dos gregos, na
guerra de Troia. A peça narra a volta bem sucedida de
Agamemnon, e do seu trágico assassinato, planejado friamente por sua esposa
Clitemnestra, que vingou a morte de sua filha favorita
Ifigênia (entregue por
Agamemnon, seu pai em sacrifício aos deuses) e seu amante
Egisto, primo de Agamemnon, banido do reino pelo assassinato de
Atreu. A peça narra também a última previsão de
Cassandra, o "chorar do pássaro" que inúltilmente prevê o crime que levaria à sua própria morte, junto de
Agamemnon.
Trata da vingança de
Orestes, filho de
Agamemnon e
Clitemnestra,
que vinga a morte de seu pai assassinando sua mãe e também seu amante
Egisto. Orestes recebe o apoio de sua irmã Electra e de do deus Apolo.
A peça final, é o julgamento de
Orestes,
que dá fim a sucessão de vingança familiar e da maldição lançada sobre
os filhos de Atreu. Se passa em Atenas. O julgamento termina em um
empate o que favore a inocência de Orestes.
Resenha no blog Cinema Italiano
O olhar antropológico de Pasolini sobre a África moderna
Lapo Gresleri
A observação do “outro” – entendido como estranho, diverso e até mesmo oposto a si – é elemento central na obra pasoliniana: para o autor, os camponeses de Friuli, o subproletariado e a burguesia italiana são, assim como as populações terceiro-mundistas, objeto de análise e de confronto ideal para refletir sobre a sociedade de sua época.
Pasolini não vê salvação alguma para a Itália e, em geral, para a Europa, consta- tando a já incontível afirmação da sociedade de massas, causa primeira da margi- nalização e em seguida da anulação da tradicional cultura camponesa e das classes sociais ligadas a ela, em favor de uma ideologia pequeno-burguesa homologante e consumista. Já o discurso a respeito do Terceiro Mundo é bem diferente.
Nestes países e em seus povos, o autor ainda vê uma possível evolução que não esqueça os respectivos patrimônios intelectuais, um progresso em cujo processo, ligado a novos contextos específicos consequentes às várias guerras de libertação, permanece evidente o controle econômico e político, portanto cultural, das potên- cias ex-colonizadoras.
A assimilação por parte das populações e das realidades locais de elementos estranhos a elas, pertencentes ao mundo ocidental com o qual entram em contato, dá lugar a um dos fatores mais característicos do Terceiro Mundo, que Pasolini evidencia, anota, filma em suas viagens, ou seja, a existência (...) de contrastes enormes, entre manifestações de vida autóctone quase pré- -históricas e (...) exibições de uma modernidade (...) 1
Que lhe é externa. Esta estridente coexistência torna-se, então, um signo tangível daquele mundo arcaico – ou “irracional” – que sobreviveu à “democracia formal” ocidental que, importada com instrumento de domínio, se revelou, ao contrário, um meio de emancipação.2
Nesta ótica, assume particular relevância o contexto africano dos últimos anos de 1960, quando Pasolini tem a ideia de fazer uma transposição cinematográfica da Oréstia esquiliana ambientada no continente que, desco- lonizado há pouco,3 passou, portanto, “(...) de um estado “selvagem” para um outro “civil e democrático”, deixando para trás séculos de “tribalismo” e “pré-história”.4
O diretor considera que o eixo do texto grego é esta mesma evolução (...) de uma sociedade primitiva, dominada por sentimentos primordiais, obscuros e irracionais, simbolizados pelas Erínias, a uma nova comu- nidade estatal democrática, guiada pela Razão (Atena) e baseada em modernas instituições humanas e eletivas: o tribunal, a assembleia, o sufrágio.5
Mas segundo o autor, a civilização arcaica – superficialmente chamada de folclore – (...) deve ser assumida no interior da civilização nova, integrando-a e tornando-a específica, concreta, histórica. As terríveis e fantásticas divindades da Pré-história africana devem sofrer o mesmo processo das Erínias, transformando-se em Eumênides.6
Anotações para uma Oréstia africana se propõe, portanto, a indagar a África contemporânea em busca daqueles traços arcaicos ainda presentes nos lugares, nos corpos, nos usos e costumes locais, capazes de permitir uma atualização da tragédia de Ésquilo. Ou seja, Pasolini quer destacar “(...) os aspectos híbridos das sociedades africanas, situadas entre o arcaísmo local e a contaminação consumista ocidental (...)”7; de uma nova “nação socialista de tendências (...) filochinesas, mas cuja escolha evidentemen- te ainda não é definitiva, pois ao lado do atrativo chinês existe um outro atrativo não menos fascinante: o americano ou, melhor dizendo, neocapitalista”. Isso é demons- trado pelas imagens de alguns volumes sobre a China de Mao vendidos na rua, sobre um lençol, ao lado de uma loja de eletrodomésticos, e da Universidade de Dar es La- laam com o inconfundível perfil arquitetônico “elegante e seguro” de um college estadunidense, símbolo de “todas aquelas contradições internas da jovem nação africana”, explicitadas na livraria do Instituto: uma placa na entrada informa, de fato, que a construção se deve à República Popular da China, mas na vitrine estão expostos textos do tipo: “Como ensinar inglês”, “Manuais para professo- res de história na África ocidental”, “A educação social do adolescente”, “Os novos africanos”, “Homens da cidade e homens da tribo”, contos para jovens e novas gramáticas, livros sobre Cristo e sobre a educação americana.
Servem de contraponto a elas, as imagens dos afri- canos repetindo “(...) árduas e milenares atividades coti- dianas no interior de suas aldeias (...)”.8 É nestas últimas que o poeta-diretor se detém mais tempo, oferecendo um retrato participante, mas distanciado, de uma realidade que se reorganiza rapidamente depois de um processo de auto-renovação que se apoiava justamente naqueles traços populares que ainda eram a base da cultura local. Em busca dos intérpretes ideais para a tragédia grega, Pasolini fotografa pescadores, camponeses e pastores de rostos duros e orgulhosos, suas moradias e seus instrumentos de trabalho, que só fazem confirmar aquele sen- tido de pobreza digna que caracteriza a vida e os hábitos das populações, como as cabanas de madeira, pedra, terra e palha às margens do lago Vittoria e os poucos objetos (uma xícara, uma panela, uma tigela, alguns ferramentas) pertencentes a quem nelas reside.9
A elas o diretor contrapõe mulheres e moças que “parecem não saber outra coisa senão rir e aceitar a vida como uma festa, com seus lenços de todas as cores, vermelhos, amarelos, azuis, roxos”, sinais de uma mentalidade talvez já mais próxima do modelo ocidental.10
Se modernos barcos de ferro substituíram as antigas jangadas para atravessar lagos e rios, observando os po- voados citadinos recentes nas redondeza de Kigoma e os novos estilos de vida nestes locais, fica ainda mais evidente a mistura de passado e presente que caracteriza o continente.11 As aldeias construídas há pouco segundo os modelos urbanísticos ocidentais – reproduções em escala menor das novas e mais caóticas metrópoles africanas – cheias de automóveis, letreiros publicitários, postos de gasolina, bares e comércios, trazem à memória as enso- laradas periferias de Accattone (1961), Mamma Roma (1962) ou A ricota (1963). A seu lado, vemos as imagens dos mercados “à moda antiga” onde os camponeses se re- únem caoticamente para trocar seus produtos, tais como sementes, frutas, verduras acondicionadas em grandes cestos, feixes de lenha, utensílios e objetos de artesanato em argila.
Até então, Pasolini se interessava mais pelos aspec- tos arcaicos que ainda caracterizam a África, deslocando agora a sua atenção para os traços mais modernos. A saída de uma fábrica, assim como a atividade numa escola recém-construída reiteram aquela ideia de emancipação coletiva mencionada antes: “moças ainda à moda antiga, camponesas, e outras mais modernas e sem preconceitos” que alternadamente, fogem e enfrentam com segurança o olhar quase indiscreto da câmera, e os estudantes que, “segundo a concepção pedagógica moderna”, alternam o trabalho no campo com o estudo “que ainda aparece para eles como uma dádiva, uma concessão”. Um respeito pelo passado e pela tradição que a repentina modernização recém-implantada não conseguiu arranhar, superar, en- trando antes em contato com eles numa recíproca contaminação que é sinal de uma consciência coletiva madura e compartilhada.
“O modo de não se deixar alienar pela moderna sociedade de consumo poderia ser fornecido também [ao africano] pelo fato de ser, justamente, africano, isto é, de poder opor ao modo de consciência ocidental uma sua alma original que faz com que as coisas que aprende não sejam noções consumistas, mas antes noções pessoais, reais”, que o ajudam a “aprofundar os conhecimentos an- tigos”. A conversação entre o diretor e alguns estudantes africanos – elite culta, portanto, que se formou com base nos modelos ocidentais, mas sem esquecer a história do próprio povo, através da qual, aliás, se relaciona com o novo contexto europeu – é útil para compreender uma passagem essencial, ou seja, a sugestão do cineasta de não fazer um filme falado, mas sim cantado em estilo jazz.
“Se cantores-atores negros americanos se dispõem – sustenta Pasolini – a filmar na África um filme sobe o re- nascimento africano, isto só pode se apresentar com um significado preciso. De fato, é claro que os vinte milhões de subproletários negros da América são os líderes de qualquer movimento revolucionário no Terceiro Mundo.” A luta pela autodeterminação e pela afirmação dos direitos dos negros, levada adiante nos Estados Unidos daquela época segundo as modalidades propostas pelos dois líderes Martin Luther King e Malcolm X, não se manifesta apenas no plano social, mas também, e sobretudo, nos planos intelectual e artístico, que se mostraram, desde sempre, muito ligados às raízes arcaicas do próprio povo. Cultivando e tramando crenças, usos, costumes e saberes, favoreceu-se a formação de uma cultura paralela à cultura dominante, justamente afro-americana,12 da qual o jazz é, talvez, a expressão mais evidente, emblema daquela “resistência”, oposição e rebelião em relação ao sistema branco. A partir dos anos 1950, do Bebop ao mais extremo Free Jazz, o gênero demonstra um desejo crescente de afastamento das melodias ligeiras e fáceis em direção a formas mais articuladas e complexas, incompreensíveis e desagradáveis a uma audição superficial, e na realidade profundamente intelectuais, caracterizadas pelo desejo de um retorno ideal às origens, às sonorida- des quase primitivas próprias da Terra Mãe África.13
A luz do que foi dito, a adaptação musical da cena de Cassandra e, de uma maneira mais geral, o comentário musical que acompanha todo o filme, torna-se uma enésima representação daquela mistura entre presente e passado incita no novo africano, assim como em sua civilização. Mas uma reelaboração, uma reconceitualização cultural desse alcance não pode deixar inalterado o saber de origem que, de fato, perde uma parte de si, ou melhor, liberta-se daqueles traços mais irracionais típicos de qualquer arcaísmo. Chega-se assim à terceira parte da pesquisa filmada, centrada nos ritos, símbolos, para Pasolini, da permanência dos traços antigos próprios “das Fúrias agora transformadas em Eumênides” e, portanto, não superados, mas coexistentes uns nos outros, como demonstra a dança ritual “com seus precisos significados religiosos, talvez, cosmogônicos”, agora repetida “quase como divertimento, esvaziando estes gestos de seu antigo significado sagrado”.
Assim também, as imagens de uma oração fúnebre e de uma cerimônia nupcial nas ruas de Dodoma: os penteados, o modo de caminhar, os acenos de dança, os gestos, as tatuagens nos rostos “são todos eles, sinais de um antigo mundo mágico” que se apresenta como um costume, “um antigo espírito autóctone que não quer se perder”. No pátio da casa dos noivos, onde se celebra uma festa sob muitos aspectos semelhantes às europeias, ao ritmo moderno de uma orquestra que toca instrumen- tos elétricos de clara proveniência ocidental, percebe-se “a permanência do antigo espírito, transformado (...) em vontade de felicidade, em festa, em graça, em leveza, em desenvoltura, (...) traços muito típicos do espírito africa- no”. O mesmo acontece durante a entrega dos presentes por parte dos convidados: um colchão, dois travesseiros, uma mesa, tão estranhos à tradição local, misturam-se a outros misteriosos objetos (talvez pratos de comida) en- voltos em grandes panos. Um ato que não é um confu- so e insensato acúmulo material, mas uma manifestação da alternativa ao “progresso sem desenvolvimento” que o autor identifica como limite primeiro das sociedades europeias contemporâneas, voltadas para o presente he- donista mais do que para uma salvaguarda consciente de m passado próprio, singular e coletivo, capaz de abrir uma perspectiva concreta de futuro.
“Há no povo africano uma grande liberdade e uma grande disponibilidade em relação ao futuro”, comenta o autor, “mas o caminho em direção ao futuro não tem solu- ção de continuidade (...). O futuro [de um povo] está em sua ânsia de futuro e sua ânsia é uma grande paciência”. Com estas palavras, termina o filme: uma conclusão sus- pensa, aberta como aberto era então o destino da África, recém-nascida nação independente que se defronta com uma realidade nova em rápida afirmação, mas com um pleno e consciencioso domínio de um passado individual e coletivo. As imagens no final, só fazem reiterar visual- mente este conceito: camponeses ocupados em repetir suas atividades seculares segundo as práticas dos pais, são o signo daquela paciência confiante que está na base da relação entre homem e ambiente circunstante, que se concretiza na espera dos frutos futuros do próprio tra- balho.
E para estes trabalhadores e para outras figuras retra- tadas nos Appunti que Pasolini volta o seu olhar etnográ- fico, desprovido, porém, daqueles limites característicos da antropologia moderna que coloca os objetos de estu- do sob a lente deformante de uma suposta inferioridade em relação a seus observadores europeus, filtrando assim – através de uma bagagem cultural estranha e comparti- lhada – hábitos locais que, consequentemente, só podiam resultar “primitivos”. A abordagem do diretor não é, por isso, de superioridade apriorística e de fechamento, mas de confiança disponível em seu interlocutor, certo de que este confronto pode se transformar em troca e aumentar, assim, os respectivos patrimônios cognitivos e experien- ciais, princípio esquecido com muita frequência – em particular no plano interracial – e que deveria, ao contrá- rio, ser a base de qualquer relação humana.
1. Marianna De Palma, Pasolini e il documentario di poesia, edizioni Falso Piano, Alessandria, 2004, pp. 46-47. Te- mos, por exemplo, o diário de viagem L’odore dell’India (1961), no roteiro de Il padre selvaggio (1962) ou em Sopra- luoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo (1965), Appunti per un film sull’India (1968), Le mura di Sana’a (1971), Appunti per un’Orestiade africana (1975).
2. Eficaz neste sentido, a reflexão de Pasolini contida em Che fare col
“buon sel- vaggio”?, “L’illustrazione italiana”, CIX, 3,
fevereiro-março 1982, hoje em Walter Siti- Silvia De Laude (org.), Pier
Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, I Meridiani,
Arnoldo Mondadori Editore, Milão, 1999.
3. Sobre a gênese do
projeto, Roberto Chiesi, “Pasolini e la ‘nuova forma’ di Appunti per
un’Orestiade africana”. in Roberto Chiesi (org.), Appunti per
un’Orestiade africana di Pier Paolo Pasolini, Edizioni Cineteca di
Bologna, Bo- lonha, 2008, pp. 6-12. Ver também P. P. Pasolini, “L’Atena
bianca” in Laura Betti – Michele Gulinucci (org.), Pier Paolo Pasolini.
Le regole di un’illusione, Fondo Pier paolo pasolini, Roma, 1991, e
Pier paolo Pasolini, Nota per l’ambientazione dell’Orestaide in Africa,
“La città futura”, 13, 7 de junho de 1978, hoje em Walter Siti – Franco
Zabagli (org.), Pier Paolo Pasolini. Per il cinema, I Meridiani, I,
Arnoldo Mondadori Editore, Milão, 2001.
4. Giovanna Trento, Pasolini e l’Africa. L’Africa di pasolini, Mimesis Edizioni, Udine, 2010, p. 210.
5. Ivi, p. 201.
6. P. P. Pasolini, Nota per l’ambientazione dell’Orestiade in Africa,
cit., p. 1200.
7. Serafino Murri, Pier paolo Pasolini, l’Unità/Il
Castoro, Milão, 1995, p. 116.
8. Idem.
9. É interessante comparar as imagens do diretor com aqueles trazidas pelos ex- ploradores estudiosos que o precederam no continente. De interesse particular é, neste contexto, a pesquisa etno-arquitetônica de Lidio Cipriani apresentada em seu Abitazioni indigene dell’Africa Orientale Italiana, edizioni della Mostra d’Oltremare, Nápoles, 1940. Apesar da distâncias de quase trinta anos de história civil, os dois trabalhos confirmam a manutenção dos traços tradicionais na Áfri- ca moderna, sinal inequívoco daquela permanência arcaica que Pasolini queria encontrar para seu filme.
10. Já em Che fare com il “buon selvaggio”?, um Pasolini levemente misógino vê o consumidor ideal como “brincalhão, bobinho, risonho, afetado e crédulo como uma menina”.
11. Cujas intrínsecas razões culturais são expressas em Pier Paolo Pasolini, Nell’Africa nera resta um vuoto di millenni [Na África negra persiste um vazio de milênios], “Il giorno”, 20 de março de 1970, hoje in Walter Siti – Franco Za- bagli (org.), op. cit.
12. Para aprofundar, ver Maria Giulia Fabi, America nera: la cultu- ra afroamericana, Carrocci, Roma, 2002.
13. Uma síntese brilhante desta evolução está contida em Guido Michelone, “La modernità del jazz” in Jazz, Edizioni Pendragon, Bolonha, 1998, pp. 53-68.
Bibliografia
Cipriani L., Abitazioni indigene dell’Africa Orientale Italiana, Edizioni della Mostra d’Oltremare, Nápoles, 1940.
Costa A. (org.), Pier Paolo Pasolini. Appunti per un’Orestiade africana, Quaderno del Centro Culturale di Copparo, Capparo, 1983.
Chiesi R. (org.), Appunti per un’Orestiade africana di Pier Paolo Pasoli- ni, Edizioni Cineteca di Bologna, Bolonha, 2008.
De Palma M., Pasolini e il documentario di poesia, Edizioni Falso Piano, Alessandria, 2004.
Fabi M.G., America nera: la cultura afroamericana, Carrocci, Roma, 2002.
Fusillo M., L’ ‘Orestea’: l’utopia de una sintesi, in La Grecia secondo Pasolini, Carrocci, Roma, 2007, pp. 139-184.
Michelone G., La modernità del jazz in Michelone G., Jazz, Edizioni Pendragon, Bolonha 1998, pp. 53-68.
Murri, S., Pier Paolo Pasolini, l’Unità/Il Castoro, 1995.
Pasolini P. P., Che fare col “buon selvaggio”?, “L’illustrazione italiana”, CIX, 3, fevereiro-março de 1982, hoje in Siti W. – De Laude S. (org.), Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, I Meridiani, Arnoldo Mondadori Editore, Milão, 1999.
Pasolini P. P., L’Atena bianca in Betti L. – Gulinucci (org.), Pier Paolo Pasolini. Le regole di un’illusione, Fondo Pier Paolo Pasolini, Roma, 1991.
Pasolini P. P., Nell’Africa nera resta um vuoto de millenni, “Il Giorno”, 20 de março de3 1970, hoje in W. Siti – F. Zabagli (org.), Pier Paolo pasolini. Per il cinema, I Meridiano, I, Arnoldo Mondadori Editore, Milão, 2001.
Pasolini P. P., Nota per l’ambientazione dell’Orestiade in Africa, “La cit- tà futura”, 13, 7 dfe junho de3 1978, hoje in Siti W. – Zabagli F (org.), Pier paolo pasolini. Per il cinema, I Meridiani, I, Arnoldo Mondadori editore, Milão, 2001.
Picconi G., La furia del passato. Appunti su Pasolini e l’“Orestiade” in Casi S. – Felice A. – Guccini G., Pasolini e il teatro, Marsilio, 2012, pp. 129-139.
Trento G., Pasolini e l’Africa. L’Africa di pasolini, Mimesis Edizioni, Udine, 2010.
As grandes rivais: Esparta e Atenas